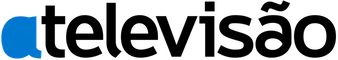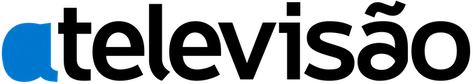José Rodrigues dos Santos, jornalista da RTP e escritor, recorreu às suas redes sociais para responder às acusações de que foi alvo no decorrer de uma entrevista dada à RTP.
O jornalista foi acusado de ter treslido estudos que afirmam que a Solução Final do Holoscausto, utilizando as câmaras de gás, foi uma forma de ‘humanizar’ a matança. Tudo aconteceu no âmbito do lançamento de dois novos romances de José Rodrigues dos Santos.
Lê aqui o esclarecimento completo de José Rodrigues dos Santos:
Esclarecimentos ao texto publicado pela revista Sábado no dia 7 de Dezembro de 2020.
A propósito dos meus romances O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau, e das entrevistas que sobre eles dei, multiplicaram-se recentemente afirmações em tweets e no Facebook que desencadearam uma nova campanha de ódio. Ainda pensei em ignorar isto, pois estou habituado a ver práticas de bullying e intimidação contra tudo o que se atreva a desviar-se do conhecimento “autorizado”, mas acabei por concluir que silenciar-me seria deixar que o ódio e a mentira prevalecessem e a desinformação prosseguisse. O problema é que as afirmações falsas são tantas e tão variadas que se torna exaustivo desmontá-las a todas. Mas como a Sábado teve o cuidado de publicar algumas com esmiuçado detalhe, respondo uma a uma às afirmações mencionadas na página online da revista que digam exclusivamente respeito a matéria factual. Antes de prosseguir, porém, parece-me importante sublinhar que é um absurdo falar sobre o que está em O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau sem se ler as obras e apenas com base numa entrevista de vinte minutos. Portanto, leiam-nas primeiro e depois falem.
Comecemos com as acusações de Carlos Vaz Marques, o autor do excerto de 22 segundos da minha entrevista que no Tweeter desencadeou a campanha de ódio.
Vaz Marques refuta descontextualizações. “A alegação de que o excerto de José Rodrigues dos Santos foi descontextualizada é falsa. Não há mais contexto do que aquele. JRS diz mesmo que alguém tomou a decisão de recorrer à câmara de gás considerando que aquela foi uma forma “mais humana” de matar. O que há, à luz de tudo o que li sobre o tema, é uma grande dose de facilitismo interpretativo, tornando aquilo que foi uma forma industrial de extermínio numa decisão de ordem “humanitária”. E isso é de um desrespeito grotesco pela História.”
José Rodrigues dos Santos: O excerto televisivo em causa começa comigo a dizer o seguinte: “A certa altura há alguém que diz…” Este preâmbulo é crucial e contextualiza o resto da frase. O problema é que os comentários decorrem como se esse preâmbulo não tivesse sido feito. O próprio Carlos Vaz Marques ignora-o em absoluto e escreve em dois tweets irónicos: “As câmaras de gás ou de como os nazis foram afinal bonzinhos e humanitários em Auschwitz”. E: “Transformar o Holocausto, mesmo a tentar explicar que não havia plano prévio, numa decisão humanitária exige capacidade ficcional”. E ainda diz à Sábado que eu considero aquela “uma forma ‘mais humana’ de matar”. Ora é absolutamente falso, ridículo e, isso sim, grotesco, atribuir-me tal coisa. Mais ridículo do que eu sustentar tal absurdo é haver pelos vistos pessoas que têm suficiente falta de bom senso para achar que eu penso isso. O que eu disse é que, no processo de decisão que conduziu ao Holocausto, os nazis invocaram razões humanitárias para conceber os gaseamentos, o que é muito diferente. Atente-se ao primeiro documento nazi existente a preconizar explicitamente o extermínio dos judeus. Esse documento foi enviado de Poznan a Adolf Eichmann a 16 de julho de 1941 pelo oficial SS Rolf Hoppner, e consultei-o na sua tradução para inglês feita por Christopher Browning em The Origins of the Final Solution – The Evolution of Nazi Jewish Policy, 1939-1942: “Existe este inverno o perigo de não se conseguir alimentar todos os judeus. Dever-se-ia considerar seriamente se não seria uma solução mais humana eliminar os judeus (dispose of the Jews), designadamente os que não conseguem trabalhar, através de um agente de morte rápida (quick-acting agent). Seria melhor do que deixá-los morrer à fome” (página 321).
O documento fala por si mesmo.
Irene Pimentel: “Absolutamente chocante a ignorância e a desfaçatez de José Rodrigues dos Santos. Havia piscina, escola para meninos judeus, vida quotidiana à qual os prisioneiros se adaptavam e se habituavam, em Auschwitz-Birkenau? Negacionismo.”
José Rodrigues dos Santos: Mas qual ignorância e qual negacionismo? Estão em causa neste curto parágrafo três factos. Ou são verdadeiros ou são falsos. Irene Pimentel diz que são falsos. Cabe-me a mim provar o contrário. Vamos por partes.
1) A “piscina”. Escreveu Laurence Rees, historiador que fez um documentário para a BBC sobre Auschwitz, no livro Auschwitz – The Nazis and the ‘Final Solution’, que a chamada “piscina” na verdade “era um tanque de água sobre o qual os bombeiros fixaram uma prancha improvisada. ‘Havia uma piscina em Auschwitz para os bombeiros’, confirma Ryszard Dacko. ‘Eu podia nadar lá’” (página 253). O senhor Dacko era um prisioneiro em Auschwitz, esclareceu Rees. Como já vi que Irene Pimentel não está a par do assunto, informo-a que a dita “piscina” se situava no Stammlager. Também li um texto de um sobrevivente amigo dos sobreviventes Werner Reich, Dov Kulka e Jan Freund, os três minhas fontes, a mencionar um tanque usado como piscina no Campo dos Homens, em Birkenau. Se fizer questão, encontrar-lhe-ei essa fonte. Pode ver imagens da “piscina” do Stammlager neste link do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Vlyp3MqGJAg. O narrador deste vídeo, se se prestar atenção às suas palavras, menciona também a “piscina” de Birkenau.
2) A “escola para meninos judeus”. Havia no Familienlager, o Campo das Famílias, conhecido também por Campo Checo, uma skola, ou escola, animada por Alfred Hirsch, um sionista muito ativo. Freddy, como era conhecido, era apreciado por todos no campo, incluindo pelos nazis, sobre quem conseguiu exercer influência e obter melhor alimentação para as crianças da escola. As referências sobre esta escola são inúmeras, mas limitar-me-ei a dar este link do holocaust.cz sobre Hirsch (personagem aliás de O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau) que menciona a skola como uma “tentativa notável de criar um pequeno oásis dentro do campo da morte”: https://www.holocaust.cz/…/people/alfred-fredy-hirsch-2/
Troquei emails com dois judeus que frequentaram essa escola e ainda hoje estão vivos, Dov Kulka e John (Jan) Freund.
3) A “vida quotidiana à qual os prisioneiros se adaptavam”. Não percebo o negacionismo sobre este tema por parte de uma historiadora profissional que escreveu sobre o Holocausto, pois o assunto é abordado por múltiplos sobreviventes. Disse o sobrevivente do Sonderkommando Eliezer Eisenschmidt ao historiador israelita Gideon Grief, citado no livro We Wept Without Tears – Testimonies of the Jewish Sonderkommando From Auschwitz: “Habituámo-nos àquela rotina. Tornou-se absolutamente normal, como se a vida fosse mesmo assim” (página 231) e “encarávamos os nossos trabalhos no crematório como empregos normais” (página 232). Shaul Chazan, outro sobrevivente do Sonderkommando, a unidade dos crematórios, contou:
“Naquele lugar nós retirávamos os cadáveres das câmaras de gás e também comíamos e bebíamos – com os cadáveres” (página 279). Acrescentou Yaakov Silberberg, igualmente sobrevivente do Sonderkommando: “Sentávamo-nos sobre os corpos e comíamos. E bebíamos chá” (página 323). Este pormenor é descrito em O Manuscrito de Birkenau. Questionei o sobrevivente Werner Reich sobre este assunto da adaptação e normalização da experiência em Auschwitz e ele deu-me esta resposta num email datado de 5 de janeiro de 2018: “Jose, I think you opened a can of worms. The problem is only that your readership will not be used to reading this type of gruesome normality. I agree that, the first time I saw a dead body or killing, I was horrified. Later on, these sights were part of the scenery, like telegraph poles or milestones.” Importa explicar que a adaptabilidade dos seres humanos a condições adversas é um tema muito estudado na psicologia e na biologia, e dado como amplamente documentado. Aliás, a teoria da evolução assenta justamente no conceito de adaptabilidade e negar a adaptabilidade natural dos seres vivos é negar o próprio evolucionismo. Não sobrevive quem é mais forte, sobrevive quem se adapta melhor. É próprio dos seres vivos, incluindo os seres humanos, adaptarem-se às condições adversas que enfrentam, e os prisioneiros de Auschwitz não constituíam, como é óbvio, exceção. Faz impressão, por isso, ver académicos chegarem ao ponto de negar a evidência. Ignorância minha, Irene Pimentel? Negacionismo? Lamento, mas claramente não anda a fazer bem as suas pesquisas…
Irene Pimentel: o senhor Rodrigues dos Santos diz banalidades e outras coisas que leu como se fossem da sua lavra, mistura a inquisição, o jihadismo, o gulague e o Holocausto, os comunistas e os nazis. Com que então o nacional-socialismo vem do ocultismo? O homem mistura o “homem novo” da revolução francesa com o do nazismo e do estalinismo.
José Rodrigues dos Santos: O problema destas tiradas é que se tecem em poucas linhas e desmontá-las leva páginas e páginas. Irene Pimentel mistura conceitos totalmente diferentes e que eu não relacionei e torna-se moroso desfiar todo este novelo que ela emaranhou num curto parágrafo. Tentarei ser breve.
1) “Inquisição, jihadismo, Gulag, Holocausto, comunistas e nazis”. Este assunto é por mim abordado no quadro da explicação de um problema famoso colocado por Hannah Arendt em Eichmann in Jerusalem. “O problema com Eichmann é que precisamente muitos eram como ele e que muitos não eram nem perversos nem sádicos, é que eles eram, e ainda são, terrível e horrivelmente normais” (página 276). Quando Arendt falou aí na banalização do mal não se referia necessariamente ao conceito de que o mal se tornou banal, mas à constatação de que o mal era perpetrado por pessoas banais. Muitos sobreviventes do Holocausto disseram a mesma coisa. “Nada é mais falso do que ver os SS como uma horda de sádicos que torturava e maltratava milhares de seres humanos por instinto, paixão e prazer”, observou Benedikt Kautsky, uma judia que sobreviveu a Auschwitz, citada pelo sobrevivente e historiador comunista austríaco, Hermann Langbein, em Hommes et femmes à Auschwitz, que consultei na sua tradução francesa. Outro sobrevivente, Ella Lingens, confirmou a Langbein que a maioria dos SS que operavam a máquina de extermínio “eram pessoas perfeitamente normais que sabiam muito bem distinguir o bem do mal” (página 284). Os SS que estavam nos campos não eram pois necessariamente psicopatas (embora também os houvesse), mas pessoas normais. Como é possível que pessoas normais aceitassem envolver-se em ações de extermínio? Essa é a grande questão, o grande mistério suscitado por Arendt e que tantas pesquisas alimentou até no ramo da psicologia. Sem invalidar outras explicações, a solução, parece-me a mim, é dada por Aleksandr Solzhenitsyn no seu O Arquipélago de Gulag, o livro que lhe valeu o Prémio Nobel e que fala do complexo concentracionário comunista na União Soviética com base na sua experiência pessoal e na de duzentos outros sobreviventes. A obra aborda extensivamente as matanças em massa que decorriam nos campos comunistas, a fome, as torturas e a escravização de milhões de pessoas (muitas delas detidas por sistemas de quotas), para Solzhenitsyn chegar a esta conclusão (que significativamente faz a epígrafe de O Manuscrito de Birkenau): “Para fazer o mal, a primeira coisa necessária é acreditar-se que se está a fazer o bem” (página 77). Essa é, na minha opinião, a resposta para o mistério suscitado por Arendt sobre o facto de o Holocausto ter sido cometido por gente banal: os nacional-socialistas acreditavam que estavam a fazer um mal provisório em prol de um bem maior algures no futuro. Uma escatologia messiânica. Faziam o genocídio em segredo, pois tinham a noção de estar a fazer o mal, mas acreditavam que o bem final os absolveria desse mal. Este tipo de escatologia messiânica encontra-se em obra igualmente em outros sistemas de ideias que envolveram matanças generalizadas, como a Inquisição, o jihadismo e o comunismo (o objeto original da citação de Solzhenitsyn). Quando provocavam a morte de hereges, infiéis ou burgueses e kulaks, estes sistemas de ideias faziam-no na convicção de que, embora fizessem momentaneamente o mal, era por um bem superior que viria algures num futuro melhor. Isto tinha suporte doutrinário. Vejamos, por exemplo, o caso do marxismo. Friedrich Engels escreveu que se deveria usar “absoluta impiedade” na revolução, pois um dia essa violência impiedosa seria compreendida e até elogiada. “Até ao momento em que o mundo esteja capaz de passar um julgamento histórico sobre este tipo de coisas, seremos encarados não apenas como bestas brutas, o que é irrelevante, mas também como bête (estúpidos), o que é pior”, escreveu Engels, para concluir que “a reabilitação do nosso partido pela história estará assegurada antecipadamente pela nossa literatura” (“Engels to Joseph Weydemeyer In New York”, 12 de abril de 1853, Marxist Internet Archive, www.marxists.org.). Se fizer questão posso também dar exemplos do jihadismo. Está claro agora o sentido da minha referência à Inquisição, ao jihadismo e ao comunismo? Fi-lo simplesmente no quadro de uma explicação sobre escatologias messiânicas nas quais o nacional-socialismo se enquadra.
2) “O nacional-socialismo vem do ocultismo”. O nazismo tem várias fontes intelectuais e uma delas, embora não a única nem a principal, é o ocultismo. As lendas e mitos germânicos e conceitos ocultistas da teosofia, antroposofia e ariosofia desempenharam o seu papel ao gerar um racismo bizarro, assente até no sobrenatural. Os nazis inspiraram-se em teorias extravagantes dos movimentos ocultistas da época para reivindicarem, com absoluta sinceridade, que os alemães eram um povo divino porque descendiam dos sobreviventes de Thule, ou Atlântida, eles próprios de origem divina, e que tinham sofrido alguma degeneração por se terem cruzado com povos de pele escura, considerados demónicos. Haveria assim uma luta entre a Luz, representada pelos loiros arianos de origem divina, e as Trevas, cujos soldados eram os povos escuros luciferianos, em particular os judeus. O grande projeto racial dos nazis passava por retomar a pureza da raça alemã, de modo a recuperar a sua natureza divina e assim resgatar a humanidade das trevas, e isso requeria eliminar as raças demoníacas, sobretudo a judaica. Estas ideias esotéricas eram sobretudo perfilhadas por Himmler e Hess, embora fossem igualmente abraçadas por outros líderes nacional-socialistas, incluindo Hitler, que no Mein Kampf afirmou, numa declaração com aparentes tonalidades místicas, que a política racial permitiria aos alemães “atingir esferas que se situam para lá da Terra”, pois o ariano é “o Prometeu da humanidade” e “se fosse forçado a desaparecer uma profunda treva abater-se-ia sobre a Terra; em poucos milhares de anos a cultura humana extinguir-se-ia e o mundo transformar-se-ia num deserto”. Este esoterismo racista levou mesmo o ex-nazi Hermann Rauschning a escrever que Hitler tinha a “convicção de que o homem existe num qualquer tipo de associação mágica com o universo” e alegadamente a definir o nacional-socialismo como “socialismo mágico”, posição também sustentada por Thomas Mann. “As tendências fascistas”, escreveu o grande escritor alemão, “estão impregnadas de magia”. Eu sei que tudo isto é bizarro e suscita estranheza. Porém, faz parte da História, das origens intelectuais do nacional-socialismo, da sua ideologia – e do tema da minha obra. Escolhi este tema justamente por o misticismo nazi ser largamente desconhecido do grande público e entendo que a ficção serve para tocar em temas tabu ou menos conhecidos. Não quer isto dizer que o nacional-socialismo e a Shoah se reduzissem ao misticismo (como Irene Pimentel bizarramente afirmou que eu estava a fazer). Estou apenas a dizer que o misticismo desempenhou um papel na ideologia nazi e no Holocausto.
3) O “homem novo”. Desde a Revolução Francesa, quando Robespierre apareceu com o conceito do “homem novo”, que a ideia fez o seu caminho. Os comunistas quiseram erguer o “Homo sovieticus”, os fascistas o “homem novo italiano”, os nacional-socialistas o “super-homem”, ou “Ubermensch”. Em todos eles o grande projeto sempre foi o de erguer o homem novo – e era esse afinal o próprio projeto da eugenia. No nacional-socialismo isso foi tentado pelo caminho racial e místico, no comunismo e no fascismo pelo caminho social. Para todos os efeitos, estamos perante um objetivo demiúrgico, pois em todos, e cada um da sua forma, a ideia última era construir um homem novo, um homem mais perfeito, um homem superior.
Irene Pimentel: “Só para esclarecer: em Auschwitz-Birkenau (destinado a matar todo os judeus e ciganos para lá deportados, com excepção dos jovens saudáveis escolhidos na “selecção”, enviados para o campo de trabalho escravo para judeus de Buna-Monowitz) não tinha piscina (para quê?). Onde havia uma piscina (aliás não usada pelos prisioneiros), escola, sala de concertos de fachada e algumas famílias ficavam reunidas era no campo de concentração de Theresienstadt (Terezin), na antiga Checoslováquia ocupada pelos nazis, e que serviu de “gueto-modelo para judeus” (qualificação dos próprios nazis), utilizado para efeitos de propaganda nazi (por exemplo, para a Cruz Vermelha). Há um filme nazi feito ali com esse propósito. Para esse campos foram enviados inicialmente judeus intelectuais checos ou personalidades de relevo. O destino final deles foi depois a deportação para os campos da morte, nomeadamente Birkenau. As famílias checas (familienlager) e ciganas (Zigeunerlager) não foram logo, à chegada (como era habitual) enviadas para as câmaras de gás mas permaneceram em casamatas até serem depois assassinadas.”
José Rodrigues dos Santos: Quando se desmente algo dá um certo jeito não se desmentir a verdade. 1) Diz Irene Pimentel, “só para esclarecer”, que em Auschwitz-Birkenau “não havia piscina”, mas já lhe demonstrei que havia. Recordo o livro atrás mencionado de Laurence Rees, o historiador que fez o documentário sobre Auschwitz para a BBC, quando descreveu a dita piscina como “um tanque de água sobre o qual os bombeiros fixaram uma prancha improvisada. ‘Havia uma piscina em Auschwitz para os bombeiros’, confirma Ryszard Dacko. ‘Eu podia nadar lá’” (página 253). Dei-lhe ainda o link para o youtube com imagens dessa piscina. E mostrei-lhe que também havia referências a outra piscina, esta em Birkenau.
2) Diz igualmente Irene Pimentel que Auschwitz-Birkenau estava “destinado a matar todos os judeus e ciganos para lá deportados”, com exceção dos saudáveis que iam para Monowitz. Está a confundir coisas. Auschwitz I era um campo de concentração com uma câmara de gás rapidamente desativada, pelo que a sua função não era o extermínio de judeus e ciganos (apenas o foi num curto período). Auschwitz II, o nome oficial de Birkenau, tinha 4 crematórios com câmaras de gás, sendo, portanto, de facto um campo de extermínio, mas a maior parte do seu espaço físico era reservada para campo de trabalho ou de concentração. Em particular o Campo das Mulheres e o Campo dos Homens, tal como o Mexiko, albergavam prisioneiros que trabalhavam em Birkenau ou em sub-campos adjacentes. Portanto, Birkenau era um campo de extermínio e um campo de concentração e de trabalho. E as dezenas de sub-campos que integravam o complexo de Auschwitz eram campos de trabalho, incluindo para experiências de agricultura biológica, para o fabrico de cimento, para o fabrico de armamento, etc. Um campo de extermínio não precisava de muito espaço. Veja-se Treblinka, por exemplo, que tinha apenas um único edifício, um crematório com câmara de gás. Apesar de incomensuravelmente mais pequeno fisicamente do que o gigantesco complexo de Auschwitz, em Treblinka mataram-se quase tantas pessoas como em Auschwitz. Para matar não era preciso muito espaço, mas para concentrar prisioneiros era-o. É por isso que Auschwitz era vasto. Era-o, não por ser um campo de extermínio, mas por ser também um campo de concentração e de trabalho. Julgo que Irene Pimentel sabe isto, mas presumo que se tenha exprimido mal.
3) Porém, ao contrário do que Irene Pimentel diz, os que sobreviviam à Selektion na Judenrampe não iam todos para Monowitz. Uns ficavam em Birkenau, outros iam para o Stammlager, outros para as dezenas de sub-campos existentes no complexo.
4) Quanto a Theresienstadt, o que escreveu é correto, mas em nada me desmente. Pelo contrário, o meu romance ilustra-o, pois uma parte da ação decorre justamente em Theresienstadt. Aliás, Freddy Hirsch começou por abrir a sua escola em Theresienstadt e quando foi para Birkenau abriu-a também no Campo das Famílias. Pela forma como escreveu, reconhecendo a existência da skola em Theresienstadt mas pondo em dúvida que ela existisse em Birkenau, depreendo que isto seja novidade para Irene Pimentel.
João Pinto Coelho: Cito-o: “A minha ideia era transportar o leitor de Portugal, em 2020, para Auschwitz, em 1944. De tal maneira que as pessoas estão a ler o romance e a certa altura já não estão aqui, estão lá, naquele tempo. Estão a sentir os cheiros, as cores, a visão, as emoções, como se estivessem lá.”
Uma proeza para qualquer autor, mais ainda nunca lá tendo estado. Censuro-o por isso? Essa agora! Mas estranho como suportou não fazer essa visita. Já eu não sosseguei enquanto não fiz a viagem. E mesmo tendo lá ido quatro vezes, de ter passado dias a fio a trabalhar nos antigos campos, de atravessar sem pressas a mata de bétulas de Birkenau, ou de caminhar, por vezes à noite e quase sempre sozinho, entre os barracões do Stammlager, nunca concebi os cheiros ou as emoções de quem lá sobreviveu ou fez tudo por isso. Muito menos tentei descrevê-los. Mas cada um faz o que pode e, sobre isso, nada a dizer.”
José Rodrigues dos Santos: Meu caro João Pinto Coelho, “sobre isso nada a dizer”?! Se não tem “nada a dizer”, porque o disse? Tamanha sonsice não lhe fica bem e, se me permite, derrota os seus propósitos.
1) A questão da visita a Auschwitz. O João terá os seus métodos de trabalho, eu tenho os meus. Só visito os sítios depois de pesquisar e escrever sobre eles, pois assim tenho um olhar mais educado sobre o que estou a ver. Quando vou ao local é apenas para introduzir pequenas correções. Sempre procedi assim e já o expliquei em várias entrevistas a propósito de outros romances. Desta vez, porém, não foi possível ir ao local por causa da pandemia.
2) O João Pinto Coelho “nunca” concebeu “os cheiros e as emoções de quem lá sobreviveu” nem tentou “descrevê-los”. Foi uma opção. Eu concebi e descrevi, e fi-lo com base nos múltiplos testemunhos que nos chegaram. Ou pensa o João Pinto Coelho que o cheiro de Birkenau em 1944 se reproduz no Século XXI com um passeio pelas bétulas da mata da vizinhança? A minha técnica de investigação foi amplamente comentada pelo rabino Shlomo Pereira. Se quiser faço-lhe chegar o vídeo, o rabino é um excelente comunicador e explicou bem como fiz para “conceber os cheiros e emoções” que tanto o perturbam.
João Pinto Coelho sugere ainda que talvez não seja muito exata a história que José Rodrigues dos Santos conta na entrevista da RTP, que teve a ideia para estes dois livros depois de ter conhecido em 2017 um mágico num espetáculo de Luís de Matos na RTP e que era um sobrevivente de Auschwitz.
“Igualmente não censuro JRS por dizer que nenhum autor português escreveu sobre o assunto, muito menos que se esqueça das perguntas que me fez quando me entrevistou num Telejornal em outubro de 2017 – pelo que vejo agora, apenas quatro dias antes da epifania que o levou a escrever os dois romances sobre Auschwitz.”
José Rodrigues dos Santos: Ó meu caro João Pinto Coelho, então está a insinuar que eu conheci o Werner Reich no programa do Luís de Matos porque dias antes o entrevistei a si? Este é o seu momento de humor, certo? Se a ideia é essa, parabéns: resultou. Nem vou explorar mais este faux pas. Quanto a eu ter dito “nenhum autor português escreveu sobre o assunto”, o que eu disse na entrevista à RTP foi que “não estou a ver nenhum autor muito conhecido que tenha ainda tratado o tema”, mencionando José Saramago e Lobo Antunes. Já vi que se considera nessa categoria, e não o vou desmentir porque acho muito bem que seja um homem confiante e que acredite em si e nas suas capacidades (fossem todos assim e tudo seria melhor, e com isto não estou a ser irónico), pelo que neste ponto só me resta apresentar-lhe as minhas desculpas (também sem a menor ironia). Tem razão, injusticei-o. O João Pinto Coelho escreveu romances sobre Auschwitz. A verdade é para se dizer e os erros para se corrigirem.
Também não o critico pelas gafes – logo eu, que me espalho tantas vezes-, mesmo quando nos diz: ‘Os nazis tinham 50 campos de concentração, que é uma coisa gigantesca, e os comunistas, na Rússia, tinham 500! Eram dez vezes mais.’ Classificar Auschwitz como um campo de concentração é uma imprecisão muito mais comum do que afirmar que os nazis tinham 50 campos. Infelizmente o número foi superior, dolorosamente superior: mais de 44.000, somados os campos de concentração e guetos, campos de trabalho, de trânsito, de extermínio, etc.”
José Rodrigues dos Santos: Diz que não critica mas logo a seguir critica. A sonsice é, decididamente, um traço seu. Vamos por partes.
1) O João Pinto Coelho começa por regressar ao tema das classificações dos campos. “Classificar Auschwitz como um campo de concentração é uma imprecisão”, diz corretamente. Auschwitz era simultaneamente campo de concentração, campo de trabalho e campo de extermínio. Na entrevista usei a expressão mais simples e comumente conhecida, como é natural. Uma entrevista para o grande público não é, porém, o local para lidar com questões técnicas, parece-me a mim, pelo que considero o detalhe mais adequado a outro contexto.
2) Quanto aos 44 mil campos de concentração, confesso que fiquei intrigado pois 44 mil KL é, convenhamos, imenso. Os nazis tinham 44 mil campos com Largerfuhrer, Sturmbahnfuhrer, Rapportfuhrer, Kapos, Blockaltesteren e tudo o mais? Isso é uma legião! Fui verificar no livro de Nikolaus Wachsmann. Em KL – A History of the Nazi Concentration Camps (já agora, vá criticar o Wachsmann por no título incluir Auschwitz na classificação de campos de concentração) escreveu ele sobre os campos que começaram a aparecer em 1933: “Os sítios (de detenção) eram geridos pelas diferentes autoridades locais, regionais e estatais, e tinham todos os formatos e tamanhos. Um punhado operou durante anos, mas a maioria fechou após apenas poucas semanas ou meses. As condições variavam também enormemente, desde o inofensivo ao que ameaçava a vida: alguns prisioneiros não sofreram nada enquanto outros eram permanentemente agredidos (violated). Vários dos novos sítios eram chamados campos de concentração, mas este termo era ainda aplicado de forma liberal” (página 33). Na página 37 esclareceu Wachsmann que “frequentemente os energúmenos nazis levavam poucos minutos a arrastar as suas vítimas para um desses campos, normalmente grandes bares das SA, apartamentos privados ou as chamadas casas-SA”. A seguir deu o exemplo de um prisioneiro que ficou um dia num apartamento e uns dias num bar. Ou seja, para o João Pinto Coelho e para os nazis um campo de concentração era um apartamento privado, talvez umas águas-furtadas, onde detinham um prisioneiro durante umas horas ou uns dias ou umas semanas. Mas quando eu falo de campos de concentração, meu caro, não é disso evidentemente que estou a falar. Se fosse, não diria que os comunistas só tiveram quase 500 campos de concentração, falaria em milhares e milhares de campos na URSS, pois segundo esse critério bastava a Checa, ou o NKVD, ou o KGB deter alguém num apartamento durante umas horas para esse espaço passar a ser classificado como campo de concentração e o detido tornar-se automaticamente um zek. Desculpe, isso para mim não faz sentido nenhum. Por exemplo, Auschwitz tinha na verdade dezenas de campos, não era só o Stammlager, Birkenau e Monowitz, mas todos esses campos eram designados sub-campos, não campos. Quando falo em campos de concentração não me estou, pois, a referir a umas águas-furtadas ou a uns bares ou mesmo a um sub-campo, estou antes a referir-me a um espaço complexo cercado por arame fartado, vigiado por sentinelas em miradouros, com holofotes, um Lagerfuhrer e respetiva corte de Rapportfuhrer, Blockfuhrer, Kapos, Blockaltesteren, etc. O problema aqui não é que eu tenha dito uma coisa errada e o João Pinto Coelho uma coisa certa ou o inverso, mas que estamos a falar de coisas diferentes. Por favor, não confundamos as pessoas com dados enviesados, comparando coisas que não têm comparação.
Finalmente, um último exemplo do texto de João Pinto Coelho. “Há mais e há pior. Atente-se:
‘Nós vemos no livro que há ali uma máquina que está montada e que é quase como quem vai para o trabalho. Aquilo é um trabalho, portanto, eles vão lá fazer um trabalho. (…) Chegou ao ponto de terem um bordel no campo para os prisioneiros (…) tinham uma piscina para os prisioneiros, (…) tinham uma escola para as crianças judias no Familienlager, em Birkenau. Por outro lado, o ser humano tem uma enorme capacidade de se adaptar às situações.’
Adaptar a quê? A Auschwitz? Terá JRS lido Primo Levi? No lager, a única adaptação possível é a abreviatura da morte, os Muselmänner. Não. Eles não vão lá fazer um trabalho, vão lá para morrer. Por cada transporte que chegava a Birkenau, a maior parte era imediatamente conduzida para as câmaras de gás. Os que ficavam trabalhavam como escravos até morrerem também. Não iam para a piscina e mesmo os bordéis criados nalguns campos para “premiar” os mais produtivos não passavam de um embuste, um lugar de humilhação para os prisioneiros, ou mais um exemplo do cinismo e crueldade dos nazis. Oiçam-se as vítimas, pela voz de uma de muitas – Jozef Szajna: «Os bordéis eram apenas mais uma forma de os SS atormentarem os prisioneiros. Todos os que pensam que o bloco 24 era uma espécie de prenda para os prisioneiros, não fazem a mínima ideia do que foi Auschwitz.»
José Rodrigues dos Santos: De novo por partes.
1) O João Pinto Coelho entende que não é possível a um prisioneiro “adaptar a” Auschwitz a não ser pela “abreviatura da morte”, e para isso invoca o testemunho de Primo Levi. Nega portanto os múltiplos testemunhos de muitos outros sobreviventes, nega os estudos de psicologia que abordam a adaptabilidade dos seres humanos a condições adversas e nega a teoria da evolução que atribui à adaptabilidade um papel central na evolução dos seres vivos. Um verdadeiro negacionista. A adaptação a condições adversas é algo amplamente documentado pela ciência, como já expliquei em resposta a Irene Pimentel, e, a não ser que ache que Auschwitz abriu miraculosamente uns parênteses na condição humana, é evidente que em Auschwitz ela inevitavelmente existiu. Fico espantado como ainda se tenta negar uma coisa tão evidente.
2) No que diz respeito à frase “eles vão lá fazer um trabalho”, o reparo de João Pinto Coelho é compreensível e eu esclareço rapidamente. Quando eu disse “que é quase como quem vai para o trabalho”, não me referia aos prisioneiros mas aos SS, como me parece óbvio. Muitos SS encaravam Auschwitz como uma espécie de emprego, incluindo com máquina burocrática. Está claro agora? Isto sem embargo de haver sobreviventes que diziam a mesma coisa, vide a resposta de Eliezer Eisenschmidt a Gideon Grief: “encarávamos os nossos trabalhos no crematório como empregos normais” (página 232).
3) Quanto aos “Muselmanner”, o João Pinto Coelho está a falar de um conceito que nem toquei na entrevista, mas que desenvolvo na minha obra. Leia-a, se quiser. Esclareço-o apenas que “a maior parte” dos gaseados em Birkenau não eram, ao contrário do que sugere, Muselmanner. Nem tente argumentar o contrário, mas dou-lhe uma pista: quantos das centenas de milhar de gaseados da Aktion Hoss, por exemplo, eram Muselmanner?
4) Por fim os bordeis como punição, “um lugar de humilhação” nas palavras de João Pinto Coelho. Ouviu o sobrevivente Jozef Szajna dizer que os bordeis eram “mais uma forma de os SS atormentarem os prisioneiros”. Aceitamos o testemunho, claro. Na verdade Szajna em nada desmente o que eu disse nas entrevistas e escrevi na obra. Esperaria até que o João Pinto Coelho abordasse a questão das prisioneiras que no bordel serviam como prostitutas, mas como não as mencionou não irei por aí (leia O Mágico de Auschwitz, elas são aí abordadas). É importante, contudo, perceber que nem todos os prisioneiros masculinos encaravam o bordel como uma tormenta, para mais vivendo em condições péssimas e embrutecidos pela experiência do campo. Eugen Kogon, um historiador alemão e sobrevivente cristão de Auschwitz, escreveu no seu livro L’État SS, que li na tradução francesa, que “o objetivo desta iniciativa (o bordel) era corromper os detidos políticos cuja influência se tornava dominante no campo” (página 209). Mais esclareceu Kogon que os prisioneiros pagavam “dois marcos de entrada” (página 209). Outro sobrevivente, o historiador comunista austríaco Hermann Langbein, escreveu no seu livro já citado que “os detidos, salvo os judeus a quem tal era interdito, compravam o direito de frequentar os bordeis através de bilhetes entregues em função do seu trabalho” (página 397). Os bordeis não eram necessariamente punições, meu caro. Eram concebidos como um prémio para os prisioneiros masculinos que se portavam bem (segundo os padrões das SS, claro). Escreve Laurence Rees no seu Auschwitz – The Nazis and the ‘Final Solution’: “Himmler decidiu que fornecer bordeis à rede de campos de concentração iria aumentar a produtividade dos prisioneiros ‘empenhados no trabalho’ (‘hard-working’ prisoners), excluindo os judeus, oferecendo-lhes assim um incentivo para trabalharem mais” (página 249). Com isto não estou a dizer que acho o bordel um prémio (como decerto será apressadamente dito se eu não fizer este esclarecimento), mas que os SS conceberam o bordel como um prémio e que decerto a generalidade dos prisioneiros masculinos que o frequentavam assim o encaravam (de tal modo que pagavam de livre vontade dois marcos para lá ir, pois a ida ao bordel não era compulsiva mas voluntária e apenas acessível a quem se “portava bem”). Rees entrevistou até um prisioneiro polaco, Józef Paczynski, que afirmou ter-se “rido” (página 250) quando soube do bordel, e foi um frequentador do dito estabelecimento, tendo descrito a Rees em pormenor o que aconteceu quando lá foi da primeira vez e conheceu uma “rapariga bonita e elegante” (elegant, good-looking girl) (página 250). Concluiu João Pinto Coelho: “todos os que pensam que o bloco 24 era uma espécie de prenda para os prisioneiros, não fazem a mínima ideia do que foi Auschwitz”. O João faz?
Leia também: Crise na restauração! Lourenço Ortigão e João Alves falam sobre os seus negócios